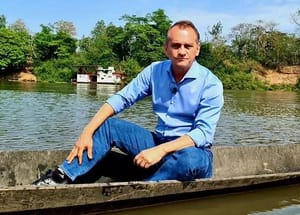Em Fragmentos Constitucionais, Gunther Teubner propõe uma mudança de lente: em vez de imaginar uma “Constituição mundial” ou a simples expansão da Constituição estatal, ele descreve a emergência de constituições parciais dentro de esferas sociais globalizadas — finanças, internet, biotecnologia, esporte, comércio — que criam regras fundantes, limites ao poder e procedimentos de autorrevisão.
Não se trata de mera “autorregulação privada”: são núcleos constitucionais que instituem competências, ritos decisórios, mecanismos de responsabilização e direitos fundamentais reflexivos aplicados a organizações e redes.
A hipótese nasce do diálogo de Teubner com a teoria dos sistemas de Niklas Luhmann: cada subsistema (direito, economia, ciência, mídia) é autopoiético, opera com lógica própria e tende à expansão.
Para evitar danos à pessoa — que pode virar “matéria-prima” de algoritmos, finanças ou biotecnologia — é preciso constitucionalizar esses campos: criar regras de segunda ordem que moderem o seu poder. Assim, a “lex mercatória” e a arbitragem transnacional, a governança técnica da internet (ICANN, IETF), os códigos anticorrupção e de compliance, os regimes antidoping ou as normas de proteção de dados funcionam como cartas constitutivas setoriais: definem quem decide, como decide e sob quais limites.
Por que chamar isso de “constitucional”? Porque, como lembra Teubner, esses arranjos fundam e limitam poderes, garantem direitos organizacionais e meta-direitos (transparência, auditabilidade, devido processo informacional), e preservam “pontos de contato” com a dignidade humana.
Em vez de direitos apenas “contra o Estado”, surgem direitos intersistêmicos: proteção de dados nas plataformas digitais; integridade de trabalhadores em cadeias globais; precaução em pesquisas biomédicas, etc. É a versão societal do que Peter Häberle chamaria de “sociedade aberta dos intérpretes da Constituição”.
Há riscos, indubitavelmente. A proliferação de arranjos pode gerar fragmentação, déficits democráticos e captura privada. Teubner não idealiza o mosaico; ele fala em colisões interconstitucionais sem hierarquia clara.
Em vez de um soberano global, propõe “heterarquia” e traduções institucionais: cortes estatais, tribunais arbitrais, autoridades reguladoras e órgãos de “soft law” precisam aprender a conversar. Nesse ponto, sua proposta dialoga — e se diferencia — do transconstitucionalismo de Marcelo Neves, que estuda a circulação de argumentos entre jurisdições.
Teubner enfatiza também as constituições não estatais e seus acoplamentos com o direito público.
O programa normativo é modesto e ambicioso: reforçar mecanismos reflexivos (participação de stakeholders, publicidade de razões, auditoria independente, memória de conflitos), estabilizar direitos nos pontos de fricção entre pessoas e organizações e distribuir contra-poder.
No Brasil, isso já acontece: a LGPD e a ANPD constitucionalizam práticas digitais; o SUS e comitês de ética balizam a biomedicina; CVM, Cade e BCB impõem limites ao mercado; o diálogo entre STF/STJ, enfim, câmaras arbitrais e reguladores produz, com um certo tropeço, um ecossistema constitucional policêntrico.
Ler Teubner é aceitar que a promessa constitucional só sobreviverá se sair do palácio e entrar nas redes onde o poder hoje circula. A tarefa pública — de legisladores a jornalistas, de juízes a reguladores e movimentos sociais — é mapear, iluminar e exigir garantias nesses fragmentos: quem decide, com base em quê, segundo quais recursos de contestação, com quais dados e quais remédios.
A Constituição continua sendo um texto estatal; mas a constitucionalidade já é um verbo no plural. É nesse plural que a dignidade encontra, ou perde, o seu lugar.
É por aí...
Gonçalo Antunes de Barros Neto é da Academia Mato-Grossense de Magistrados (Cadeira 19)