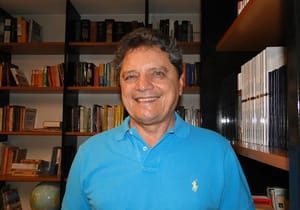Quando o influenciador Felca publicou no dia 6 de agosto um vídeo denunciando a adultização infantil, ou seja, a exposição de crianças em situações e comportamentos próprios da vida adulta e a exploração de menores em plataformas digitais, a repercussão foi imediata.
Em poucas horas, o conteúdo acumulava milhões de visualizações, virou tema por dois dias no Jornal Nacional e pressionou o Congresso a pautar projetos de lei que criminalizam a exploração sexual infantil e a circulação de conteúdos associados a ela.
Entre 11 e 12 de agosto de 2025, foram apresentados 32 novos projetos relacionados ao tema na Câmara dos Deputados. Vale ressaltar que desde 2015 outros 75 projetos com essa mesma temática circulavam no Congresso Nacional. Muitos já passaram por discussões em comissões, audiências públicas e até aprovações parciais, mas estavam paralisados, sem avanços significativos.
Isso realmente demonstra que a denúncia de Felca sensibilizou a sociedade e colocou representantes em ação. Inclusive, nesta quarta-feira, 13 de agosto de 2025, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o PL 2.857/2019, que aumenta em um terço a pena para quem alicia menores nas redes sociais, evidenciando que a mobilização gerada pelo vídeo já está tendo impacto concreto no Legislativo.
Apesar de campanhas como o Maio Laranja, que buscam conscientizar sobre o combate ao abuso e à exploração sexual infantil, os dados mais recentes evidenciam que a exploração sexual infantil já era uma realidade alarmante. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024 registrou 87.545 casos de estupro e estupro de vulnerável, sendo que 61,3% das vítimas tinham até 13 anos.
Paralelamente, a SaferNet Brasil recebeu 71.867 novas denúncias de imagens de abuso e exploração sexual infantil online em 2023, um aumento de 77,13% em relação ao ano anterior. Esses números mostram que a violência sexual contra crianças e adolescentes é sistêmica, estrutural e intensificada pelo ambiente digital. Ainda assim, não havia uma reação eficaz da sociedade e do poder público até a repercussão do vídeo de Felca.
Faço aqui apenas uma observação. A denúncia de Felca teve um impacto incontestável, catalisando uma reação pública e política rara em temas tão sensíveis. Mas o fato de que essa mobilização só tenha ganhado tal proporção a partir da fala de um homem influente, nos convida a pensar sobre como nossa sociedade hierarquiza vozes. Especialistas, organizações e sobreviventes vêm denunciando a sexualização infantil há anos, com muito menos repercussão.
A pergunta que fica é o que essa simetria revela sobre nossos filtros de atenção, nossas estruturas de poder simbólico e a seletividade da convulsão coletiva? Essa reflexão que envolve dimensões históricas e sociológicas será aprofundada em outro momento. Mas ela também nos obriga a olhar para quem, além das pessoas, controla o fluxo da indignação: as plataformas digitais.
É nelas que se decide o que ganha alcance e o que é empurrado para o esquecimento, e é por isso que precisamos falar das Big Techs e da urgência de sua regulamentação. A violência sexual contra crianças e adolescentes é sistêmica, estrutural e intensificada pelo ambiente digital.
Não podemos mais fechar os olhos para esses crimes virtuais sob o pretexto de liberdade de expressão. Há quem veja qualquer medida regulatória como censura ou ameaça à liberdade, mas até quando vamos permitir que esse argumento sirva de escudo para crimes que acontecem à vista de todos nas redes sociais?.
A recente votação na CCJ, que aumentou a pena para aliciadores de menores, foi um passo importante, mas não é suficiente. Só punir quem cometeu o ato infracional não resolve o problema. É urgente avançar na discussão da regulamentação das Big Techs.
União Europeia, Reino Unido e Austrália já aplicam legislações que responsabilizam as plataformas e impõem padrões obrigatórios de moderação de conteúdo, evidenciando que a regulação da proteção infantil no ambiente digital é uma realidade internacional e não apenas uma pauta em discussão.
Precisamos encarar de frente esse tema sensível, questionar o modelo de negócio que prioriza lucro sobre proteção e estabelecer regras que coloquem a infância acima dos algoritmos.
As Big Techs afirmam ter políticas rígidas contra a exploração sexual infantil. Mas, na prática, essas plataformas operam sobre um modelo de negócio que prioriza engajamento e tempo de tela acima de qualquer outra métrica. Algoritmos treinados para maximizar cliques acabam recomendando e amplificando conteúdos prejudiciais ou ilegais.
Denúncias feitas por usuários muitas vezes caem em filtros automáticos ineficientes ou são avaliadas por moderadores terceirizados, submetidos a sobrecarga de trabalho e metas de produtividade que inviabilizam análise criteriosa.
Esse cenário é agravado por um dado inquietante: a Deep Web, camada da internet não indexada por mecanismos de busca tradicionais, sempre foi associada a crimes ocultos, incluindo redes de pedofilia. Hoje, contudo, grande parte do material de exploração sexual infantil circula abertamente nas plataformas mais populares, sem necessidade de ferramentas sofisticadas para acesso.
No vídeo de Felca, o influencer demonstra como uma conta no Instagram, aliada a buscas, interações e likes direcionados, faz com que os algoritmos identifiquem com rapidez interesses específicos e apresentem mais conteúdos sobre o tema. Ou seja, aquilo que antes parecia restrito à Deep Web está agora à vista de todos, expondo diretamente crianças e adolescentes.
Sociologicamente, a adultização infantil é efeito de uma lógica que transforma a criança em objeto de consumo simbólico. Pesquisas de Tiziana Brenner Weber evidenciam que a indústria do entretenimento, a publicidade e a moda criam estratégias que borram as fronteiras entre infância e idade adulta, promovendo comportamentos e representações que normalizam a sexualização precoce.
Weber aponta que essa adultização não é espontânea, mas resultado de pressões culturais e econômicas que moldam expectativas de gênero e consumismo, criando meninas “twin”, que reproduzem padrões estéticos e comportamentais adultos desde cedo.
Por outro lado, a Sociologia da Infância, desenvolvida por Anete Abramowicz, reforça que crianças são sujeitos sociais ativos, cujas experiências são atravessadas por fatores estruturais como gênero, classe e raça. Abramowicz argumenta que a exposição midiática das crianças não decorre de escolhas individuais, mas de pressões sociais e econômicas, que instrumentalizam a infância para fins de lucro e entretenimento, reproduzindo estereótipos de gênero e reforçando desigualdades.
Assim, tanto Weber quanto Abramowicz mostram que a sexualização infantil é reflexo de uma lógica cultural, econômica e social que precisa ser compreendida de forma crítica para além do olhar moralizante ou individualizante.
É aqui que convém explicitar a distinção entre sintomas e causas. A responsabilização penal, a moderação de conteúdo e os filtros automatizados tratam sintomas, reduzem danos imediatos e são indispensáveis.
As causas, porém, residem na engrenagem que sexualiza a infância: modelos de monetização que premiam o engajamento a qualquer custo; economias da atenção que capturam vulnerabilidades; padrões culturais e de gênero que mercantilizam corpos; publicidade e moda que empurram códigos adultos para meninas; ausência de educação midiática e falhas de proteção estatal.
Sem enfrentar essas raízes, o ciclo se recompõe e cada pico de indignação será seguido por novas ocorrências. Combater o sintoma salva vidas. Atacar a causa impede que o problema se reproduza.
A discussão que se abre com a denúncia de Felca revela que a questão vai muito além da punição às plataformas, essa, por si só, ainda é incipiente. Trata-se de repensar o ecossistema digital em que o lucro vale mais que a proteção, e em que a omissão corporativa perpetua violências.
É preciso encarar essa pauta sensível com coragem e reconhecer que a proteção da infância deve se sobrepor sempre aos interesses econômicos das plataformas e ao discurso de liberdade de expressão que, na prática, expõe nossas crianças e adolescentes.
Ainda que a omissão das plataformas seja um eixo central, não podemos ignorar um segundo debate. Até que ponto cabe às famílias conter um problema que é, antes de tudo, sistêmico? Atribuir exclusivamente aos pais a contenção desse fenômeno é uma falsa solução. Famílias importam, e muito, mas não bastam diante de um sistema econômico e tecnológico que lucra com a exposição infantil.
Responsabilidade compartilhada é a única via: o Estado legisla, fiscaliza e oferece suporte; as plataformas assumem dever de cuidado, ajustam algoritmos e prestam transparência auditável; as escolas incorporam educação midiática e proteção digital; as famílias acompanham e orientam; a sociedade civil fortalece redes de apoio e canais de denúncia.
Individualizar o problema serve apenas para mascarar suas dimensões estruturais. Esse esforço conjunto é o que pode evitar que mobilizações como a gerada pelo vídeo de Felca sejam apenas faíscas momentâneas.
O vídeo de Felca não apenas expôs um problema antigo, ele rompeu o silêncio social que há anos pairava sobre o tema. Embora a sexualização infantil esteja na pauta de especialistas, organizações e vítimas há décadas, foi só agora que o debate ganhou escala nacional e chegou com força ao Parlamento.
Se essa luz vai se manter acesa ou se será apenas mais uma faísca esquecida, depende de mudança cultural e legislativa que coloque o interesse da infância acima dos algoritmos. E a esperança é que os parlamentares mantenham o compromisso com essa pauta, sem transformá-la num lacre momentâneo impulsionado pelo engajamento do vídeo.
O Brasil já desperdiçou pautas urgentes em disputas ideológicas, e não podemos permitir que essa siga o mesmo destino. Regular as Big Techs é só o começo; é preciso construir uma rede real de proteção que una educação digital, suporte às famílias, acolhimento psicológico e canais de denúncia que funcionem no instante da ameaça.
O teste dessa mobilização não será medido por hashtags ou manchetes, mas pelo dia em que nenhuma criança precise entrar na memória do país apenas pelo crime que sofreu.
Christiany Fonseca é Doutora em Sociologia, Cientista Política e Professora Efetiva do IFMT